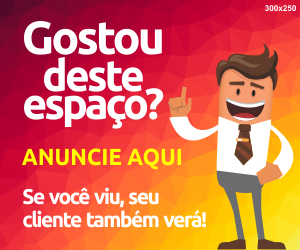reescreva este conteúdo e mantenha as tags HTML

Crédito, Getty Images
-
- Author, Mariana Rosetti e Paola Churchill
- Role, De São Paulo para a BBC News Brasil
“Vamos te desligar porque você está grávida, e sua prioridade agora vai ser seu filho.” A frase foi dirigida à fisioterapeuta Grace Venâncio de Brito Urbinati, de 31 anos, quando ela estava grávida de cinco semanas, em março deste ano.
Quem deu a notícia foi a diretora da clínica que a havia contratado como coordenadora dois meses antes. Assim que descobriu a gravidez, Grace conta que avisou os empregadores, que asseguraram: não seria problema. Mas a promessa durou pouco.
A demissão só foi possível porque Grace é microempreendedora individual (MEI). Embora tivesse horário de entrada e saída, além de outras características de um contrato de trabalho tradicional regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), era uma prestadora de serviços contratada como pessoa jurídica (PJ).
Com a demissão, a renda de Grace despencou: “A situação ficou desesperadora”. Na busca por trabalho, ela “preferia falar a verdade, que estou grávida”, mas o resultado era sempre o mesmo: silêncio dos processos seletivos.
Sem conseguir acesso ao mercado formal, passou a trabalhar como freelancer, atendendo pacientes em casa, mas “recebo menos da metade do que recebia antes”.
“As pessoas invalidam a gestante. Me senti inválida. Pensei: não sou mais nada. Perdi minha identidade.”
Grace conta que chegou a procurar um advogado para reivindicar na Justiça o reconhecimento do vínculo empregatício, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) havia suspendido a tramitação no país de todos os processos que discutem a legalidade da “pejotização”.
Esse termo é usado para se referir a quando empresas contratam prestadores de serviços como pessoa jurídica, evitando arcar com os encargos trabalhistas do vínculo formal de emprego.
A decisão do ministro Gilmar Mendes de congelar os processos, em abril deste ano, veio após o STF ser sobrecarregado com demandas sobre o tema. Isso porque a Justiça do Trabalho, disse Mendes, “descumpre sistematicamente” a orientação do Supremo, que tem decidido pela legalidade da pejotização em casos recentes.
Em paralelo, um número crescente de pessoas têm optado por esse tipo de contrato de trabalho, em especial como MEIs, em busca de mais autonomia e flexibilidade, uma remuneração maior em comparação com os empregos com carteira assinada e também por vontade de empreender e ser dono do próprio negócio.
No primeiro trimestre de 2025, o Brasil registrou a abertura de 1.407.010 novos CNPJs, dos quais 78% correspondem a MEIs, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Esse crescimento representa um aumento de 35% no número de MEIs em comparação ao mesmo período de 2024, enquanto as micro e pequenas empresas (MPEs) apresentaram uma alta de 28%.
Entre os segmentos que mais se destacaram em março, o setor de serviços liderou com 63,7% das novas aberturas, seguido por comércio (20,8%) e indústria da transformação (7,6%).
Diante do cenário, o Supremo discute se esse tipo de contratação pode ou não ser considerada fraude trabalhista, questão que gera controvérsia entre especialistas ouvidos pela BBC News Brasil.
Enquanto uns alertam que a “pejotização” irrestrita torna esse modelo de trabalho quase obrigatório em alguns setores e não uma opção pelo empreendedorismo e também é usado para mascarar vínculos de emprego, prejudicando também mulheres grávidas e mães, outros a consideram uma realidade econômica inevitável, preferível ao desemprego.
Gilmar Mendes convocou uma audiência pública para 10 de setembro, a fim de discutir o modelo. No despacho, ele reforçou que o assunto ganhou relevância econômica e social por movimentar uma parte importante da economia nos dias de hoje.
Sendo assim, “a definição de critérios claros e objetivos para a caracterização de eventual fraude torna-se imprescindível para assegurar a transparência, a proteção das partes envolvidas e, sobretudo, a segurança jurídica nas contratações”.
“Você vai dar conta com duas filhas?”. Larissa, que preferiu ter sua identidade preservada nesta reportagem, conta que ouviu esse comentário do seu ex-chefe ao ter o contrato de prestação de serviços rescindido. Ela estava grávida de nove meses da segunda filha.
Larissa trabalhava como PJ para uma agência de marketing. Entretanto, a rotina tinha características de um contrato via CLT: batia ponto, tinha horário de entrada e saída, comparecia presencialmente uma vez por semana e respondia a uma hierarquia de cargos.
Meses antes, a empresa reestruturava a cultura interna e elaborava “uma cartilha de diversidade, com vários conceitos sobre como se posicionavam em relação a diversos assuntos, como homossexualidade e outros temas”, explicou. Larissa foi convidada a escrever sobre maternidade.
Ela e uma das sócias eram as únicas grávidas da agência — outras três gestantes ou puérperas haviam sido demitidas, em diferentes momentos da gestação, conta Larissa.
Com medo do cenário incerto, ela passou a aceitar trabalhos como freelancer. “Entendia que, na agência, eu era contratada como PJ, então estava a serviço deles, mas não era funcionária”, explicou.
A insegurança também se deu quando a sócia tirou quatro meses de licença, mas as outras “prestadoras de serviço tinham 15 dias e voltavam recebendo metade do salário”. “Era a política deles”, lembra Larissa.
Na conversa de demissão, o chefe pontuou: “Eu tenho dois filhos, e é muito difícil, é complicado trabalhar assim… Então, fico pensando se você realmente vai conseguir dar conta com duas crianças”.
Larissa conta que sua resposta foi direta: “Se vou dar conta ou não, como vou me organizar com minhas duas filhas, é questão minha, né? Para vocês, tenho que entregar o que está acordado”.
A saída financeira que encontrou foi transformar os freelas em fonte de renda principal. “Não era minha vontade, não era meu sonho empreender. É um lugar desconfortável para mim até hoje”, afirma.
“Minha filha nasceu numa segunda-feira, dia 5 de agosto. Fiquei terça e quarta no hospital e, na quinta, já estava trabalhando”, recorda. Sua empresa nasceu junto com o puerpério.

Crédito, Getty Images
Para Bárbara Cobo, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) especializada em desigualdades sociais e estudos de gênero, a precarização do trabalho é um fenômeno que tem várias dimensões.
“Você não tem uma única coisa que te diz que é precarizado, mas, em geral, é a falta de uma proteção ou garantias trabalhistas; falta de amparo quando está doente; acesso minimamente a uma aposentadoria no futuro; ficar grávida e ter filhos com algum amparo por lei”, explica Cobo, que é doutora em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ).
A pesquisadora destaca que os sinais aparecem até mesmo em trabalhos formais. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apenas 3% dos vínculos formais de mulheres em 2023 resultaram em pedidos de licença-maternidade.
“É um número tão pequeno que a gente nem consegue captar direito nas pesquisas por amostragem. Agora, imagina o que acontece no mercado informal, onde sequer há registro. É a mulher que negocia diretamente com o contratante, ou se desdobra para voltar ao trabalho poucos dias após o parto”, aponta Cobo.
Se a entrada na maternidade é um ponto de inflexão, o retorno ao trabalho formal também não é simples. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômicos (Dieese) mostram que uma em cada cinco mulheres é demitida até dois anos após a licença-maternidade.
Na modalidade CLT ou PJ, trabalhadoras podem ter acesso à licença maternidade, com algumas especificidades.
Para trabalhadoras CLT, o período é de 120 dias, que pode ser estendido em até dois meses pelas empresas que participam do programa Empresa Cidadã. Já servidoras públicas têm direito a seis meses.
Além disso, nos contratos CLT, as mulheres têm estabilidade desde a gravidez até cinco meses após o parto e, se demitidas depois, recebem aviso-prévio, FGTS, multa de 40% e seguro-desemprego.
Para gestantes PJ, a licença-maternidade é o único direito garantido, desde que contribuam regularmente com o INSS como contribuinte individual.
O valor do salário-maternidade para MEI corresponde a um salário mínimo — atualmente R$ 1.518 —, independentemente da renda da trabalhadora. A duração do benefício é de 120 dias. Há ainda uma carência: a MEI deve ter contribuído por pelo menos dez meses antes do pedir o benefício.
Trabalhadoras PJ podem ter o contrato rescindido a qualquer momento, sem aviso prévio ou indenização. Também não têm direito a 13º salário, férias remuneradas ou jornada controlada, ou seja, podem precisar trabalhar até o fim da gestação sem respaldo legal para se afastar antes do parto.
Para a advogada trabalhista Veruska Schmidt, diretora de comunicação do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, esse cenário contribui para que mulheres PJ fiquem mais vulneráveis, sobretudo no contexto de gravidez.
“Ela queria uma vaga CLT, mas não existe. A única oferta que aparece é PJ. E entre o desemprego e a PJ, ela escolhe a PJ”, aponta a advogada.
Mas, é uma “percepção falsa que a mulher pejotizada conseguirá nesse contrato entre pessoas jurídicas garantir os seus direitos na via negocial”.

Crédito, Getty Images
Valesca Luiza Rauber Grotmann chegou à empresa na quinta-feira anterior à Sexta-feira Santa carregando o filho de poucos meses no colo. Na bolsa, trazia o notebook corporativo e os uniformes que ainda não havia conseguido devolver porque suspeitava do que a aguardava.
A mensagem do seu superior havia sido direta: “Pode vir à empresa amanhã? Os números ainda não estão satisfatórios”. Grotmann confirmou presença, mas alertou que precisaria trazer seu bebê, que ainda não frequentava creche.
A recepção na empresa foi protocolar. O superior que a havia convocado não compareceu. Um dos sócios — não o mesmo que a havia contratado — comunicou o desligamento. “Mesmo prevendo a situação, nunca se espera vivenciar isso na prática”, recorda.
O episódio marcou o fim de uma trajetória que começara quando Valesca, então com poucos meses de gestação, decidiu deixar seu emprego formal para trabalhar como prestadora de serviços. Mantinha vínculo trabalhista com uma emissora de rádio local quando foi procurada pela nova empresa.
Durante o processo seletivo, informou sobre a gravidez. “A reação foi totalmente positiva. Disseram que não haveria impedimentos e que eu poderia prosseguir normalmente.”
Publicitária com especialização em marketing digital, Valesca conta que aceitou o contrato PJ baseada em acordos verbais: trabalho presencial até o final da gestação, regime domiciliar nos últimos meses, um mês de licença após o nascimento e trabalho remoto até conseguir vaga em creche para a criança.
“Ali, cometi o erro fundamental: confiei apenas na palavra”, admite Valesca.
Ela rompeu o contrato CLT, abriu uma empresa individual e começou na nova função. Durante a gestação, cumpriu todas as responsabilidades até interromper as atividades em dezembro.
Seu bebê nasceu em 10 de janeiro. Exatamente um mês depois, ela voltou ao trabalho — mas diz ter encontrado um cenário completamente diferente: ausência de tarefas, reuniões canceladas e falta de planejamento.
“Estava sendo colocada de lado, estavam tirando minhas tarefas e me excluindo aos poucos.”
Só depois da demissão ela enxergou o padrão: meses antes, uma colega do setor comercial — também mãe — havia sido dispensada sob circunstâncias similares. “Ela atingia todas as metas e apresentava resultados consistentes. Mas era mãe e, frequentemente, precisava trabalhar remotamente”, lembra Valesca.
Embora contratada como pessoa jurídica, ela tinha uma rotina típica de CLT: horários fixos, presença obrigatória e estrutura hierárquica rígida. “Exigiam todas as obrigações de um emprego formal, mas sem conceder os direitos correspondentes.”
A ausência de carteira assinada significou falta de acesso à licença-maternidade, estabilidade no emprego, FGTS e benefícios previdenciários.
O relato publicado por Valesca no LinkedIn teve muita repercussão, com centenas de comentários e depoimentos semelhantes de outras profissionais.
“É preocupante observar como as organizações mantêm percepções equivocadas sobre maternidade, presumindo que mães serão menos produtivas. A realidade demonstra o contrário.”
Após o desligamento, Valesca optou por uma pausa na carreira. Com apoio do cônjuge, reorganizou o orçamento familiar para dedicar-se integralmente aos cuidados ao filho.
“Avaliamos que seria possível manter-nos com um único salário, ainda que isso exigisse ajustes. Decidi priorizar este período com meu filho.”
Pejotização em debate

Crédito, Getty Images
Antes de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho estabelecia uma distinção clara entre atividades-meio e atividade-fim na terceirização, permitindo apenas a contratação externa de serviços auxiliares — como segurança e limpeza em uma fábrica de sapatos — mas proibindo a terceirização da atividade principal do negócio.
Esse cenário mudou com a Reforma Trabalhista de 2017, que eliminou essas restrições e autorizou a terceirização de qualquer tipo de atividade empresarial.
A transformação legal foi consolidada pelo STF no ano seguinte, quando confirmou a constitucionalidade da terceirização ampla e irrestrita.

Crédito, Getty Images
O STF deu um passo ainda mais significativo em 2022 ao validar pela primeira vez a pejotização em um caso que envolveu médicos de um hospital baiano, estabelecendo assim um novo marco na flexibilização das relações trabalhistas brasileiras.
Contudo, diz o professor de Direito Amauri César Alves, da Universidade Federal de Ouro Preto, a discussão vai muito além do senso comum.
“A questão não é simplesmente que o contrato PJ seja firmado ‘livremente’. O erro está em tratar essa relação como se fosse entre dois capitais iguais — duas empresas com a mesma força de negociação”, explica Amauri.
Segundo ele, a realidade é outra: mesmo quando um trabalhador é contratado como MEI, com CNPJ, ele não detém o mesmo poder de barganha que uma grande empresa. “Essa suposta liberdade de escolha é, na prática, uma ilusão”, diz Alves.
Alves detalha que muitos contratos PJ são, na verdade, “CLT disfarçado”, com características típicas de vínculo empregatício — subordinação, controle de jornada, exclusividade e proibição de prestar serviços para outras empresas.
“Entre duas pessoas jurídicas, tudo pode ser contratado: 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para o Supremo, isso é liberdade contratual. Mas só uma das partes está realmente livre.”
Para o advogado Almir Pazzianotto Pinto, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é fundamental compreender a origem da pejotização antes de julgar o fenômeno.
“É importante entender como surgiu a PJ. Ela foi uma criação patronal ou um fenômeno da economia? Se surgiu naturalmente com uma necessidade da economia, temos que vê-la de uma maneira diferente”, argumenta.
Pazzianotto aponta que a busca por liberdade no trabalho também impulsiona a escolha pelo regime PJ.
“A pessoa não quer trabalhar registrada com a dedução para a previdência social. Ela não quer ser ligada à previdência, porque o desconto é grande e a expectativa é pequena”, explica, destacando que muitos trabalhadores optam conscientemente por esse modelo.
Segundo sua análise, existe uma conexão direta entre terceirização e pejotização. “A terceirização surgiu de uma necessidade econômica. E a terceirização produziu a PJ”, afirma, sugerindo que o fenômeno tem raízes estruturais na economia.
Pazzionoto critica ainda o que considera uma interferência do STF na questão. Para ele, há uma “radicalização da Justiça do trabalho contra terceirização” e, por isso, o STF entrou na discussão. “Eu acho que essa questão de uma decisão do Supremo nem deveria ser decisão do Supremo”, conclui.
Para a advogada Veruska Schmidt, o impacto da pejotização é maior entre determinados grupos, inclusive mulheres.
“Já estávamos vulneráveis mesmo com carteira assinada, mas vendo avanços em diversidade, equidade salarial. Agora, lutamos pelo básico: o emprego”, afirma Schmidt.
Sem vínculo empregatício, desaparecem as obrigações legais das empresas em contratar mulheres, mães e pessoas LGBT+, acrescenta a advogada trabalhista.
“Os contratos passam a ser cíveis, entre empresas. Não existe fiscalização sobre quem está por trás daquele MEI. Quem paga por isso são as mulheres, principalmente as mães trabalhadoras.”
Alves enfatiza que o debate do STF não considera essa perspectiva a partir das diferenças entre os gêneros, ainda que a pejotização seja vista por muitas mulheres como uma forma aparente de flexibilização para conciliar trabalho e cuidados domésticos.
“Do ponto de vista jurídico, um CNPJ não tem gênero, mas a realidade social é diferente”. Para ele, a decisão do STF será decisiva.
Schmidt alerta que a insegurança trabalhista também interfere em outras violações de direito, como o medo de denunciar assédios, discriminação ou condições precárias vivenciadas no ambiente profissional.
“Atendi duas mulheres da mesma empresa vítimas do mesmo assediador. Uma, ficou anos em silêncio, a outra, falou e foi demitida. É um ciclo de silenciamento que a pejotização só vai aumentar.”